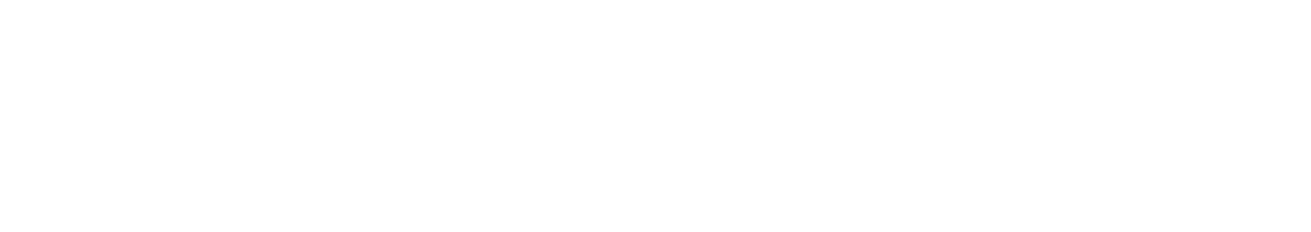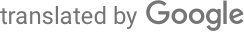Rana Awdish, MD, é médica de cuidados intensivos no Henry Ford Hospital em Detroit. Em um artigo do New England Journal of Medicine que teve mais de 100.000 visualizações de página, ela descreveu abertamente como sua própria experiência de quase morte mudou a forma como ela pensa sobre medicina. O IHI falou recentemente com ela sobre o poder da narrativa e como a empatia pode prevenir o esgotamento. A Dra. Awdish foi uma das principais palestrantes do Forum Nacional do IHI de 2017 .
O que fez você decidir descrever sua experiência como paciente publicamente? Foi uma decisão difícil de tomar?
Percebi que, como médico na minha própria instituição, eu era, pelo menos em teoria, uma minoria empoderada. Eu era alguém que tinha voz, alguma medida de autoridade e agência pessoal. No entanto, como paciente, não me sentia nem um pouco empoderado para falar sobre minhas necessidades ou medos. Pensei em como você se torna sem voz de muitas maneiras apenas por causa da doença. E, talvez mais importante, percebi que, se eu me sentia assim, então a experiência era muito mais comum do que eu havia imaginado.
Uma vez que eu enquadrei dessa forma para mim mesmo, eu senti uma responsabilidade de admitir as maneiras pelas quais meu próprio sistema tinha falhado comigo de muitas maneiras porque, se ele estava falhando comigo, então ele estava fadado a falhar com os outros. E quanto às pessoas que não têm o vocabulário médico ou a base de conhecimento sobre o que está acontecendo em seu corpo? E quanto àqueles que não conhecem as pessoas na sala ou os papéis que elas devem desempenhar? A medicina é uma caixa preta para muitos.
Temos a obrigação de consertar isso para as pessoas que não podem nos dizer que precisamos consertar. Uma vez que senti essa responsabilidade, isso me levou a escrever o artigo e, finalmente, a escrever um livro sobre minha experiência.
No artigo do NEJM , você admitiu que fez e disse coisas que, como paciente, você considerou dolorosas.
Foi muito importante para mim, ao contar a história, que isso não fosse de forma alguma um exercício de atribuir culpa ou apontar o dedo. Foi um exercício de descrever nossa cultura. Isso é quem somos. Isso é quem eu era. Eu simplesmente não tinha visto do ponto de vista do paciente. Até que você faça isso, você não consegue realmente apreciar como até mesmo as menores coisas importam — as coisas que dizemos casualmente, as coisas que não achamos que são ouvidas, a maneira casual como enquadramos a doença para as pessoas — tudo isso importa. Está embutido nas metáforas de doença que usamos — a doença como uma batalha, uma guerra. Há tanto que é inconsciente e parte da cultura que eu acho que precisamos trazer à tona para que possamos dizer: "Isso é quem somos. Agora, é isso que queremos ser? Porque agora, neste momento, é quem somos."
Como resultado de compartilhar sua experiência, novos funcionários em sua organização agora aprendem a diferença entre sofrimento inevitável e sofrimento evitável. Há alguma história que você possa compartilhar que ajude a ilustrar por que isso é importante?
Na doença, há sofrimento. Essa é apenas uma realidade inescapável. A doença é uma interrupção do nosso senso de quem somos, nossa identidade. Quando eu estava doente, era notável para mim que havia pessoas que conseguiam reconhecer o potencial sofrimento aditivo de certas ações, então elas faziam coisas para mitigar isso.
Situações que realmente se destacaram para mim foram os técnicos de radiologia, que reconheceram que poderiam simplesmente cobrir meu marido, que estava dormindo ao meu lado, com um avental de chumbo em vez de acordá-lo todas as manhãs, depois que ele não dormiu a noite toda. Esse sofrimento era evitável. Eles só tinham que vê- lo para evitar isso. Também houve transportadores que alertaram os técnicos de radiologia sobre o fato de que, embora meu prontuário tivesse uma pulseira infantil, o bebê havia morrido e, portanto, eles não deveriam me questionar sobre o bebê.
Se qualquer um desses grupos de pessoas tivesse pensado apenas sobre seu papel no meu cuidado — fazer o raio-x, me transportar de A para B — eles não teriam visto minhas necessidades como pessoa. Eles não teriam visto onde poderiam reduzir o componente evitável do meu sofrimento.
Todos que trabalham na área da saúde têm pontos de contato com os pacientes. Eles podem não ser pontos de contato clínicos, mas são pontos de contato importantes.
Depois daquela primeira gravidez desastrosa, engravidei novamente. Tive um filho que passou muitas semanas na UTI neonatal porque nasceu muito prematuro. Lembro-me do manobrista olhando para mim todas as manhãs quando eu vinha visitá-lo. Um dia, o manobrista disse: "Vejo você aqui todos os dias, e você não sai até que meu turno termine. Espero que quem quer que você esteja visitando passe por isso bem."
Ele não sabia nada mais sobre mim do que o que observou. E ainda assim ele foi capaz de ter empatia e me confortar. Ele me fez saber que viu meu sofrimento. Esse simples ato de testemunhar pode ser tão poderoso. Na área da saúde, nosso local de trabalho se torna normal para nós. Não percebemos que para muitas das pessoas que entram por nossas portas ou estacionam naquela garagem, pode ser o pior dia de suas vidas. Todos nós temos o potencial de ser aquele ponto de contato que ilumina o dia de nossos pacientes e reconhece que provavelmente não é onde você quer estar neste momento, mas nós vemos você.
Seu artigo no New England Journal of Medicine foi muito popular. O que mais o surpreendeu na resposta?
Eu me sentia desconfortável em revelar nossas falhas. Historicamente e como cultura, acho que a medicina, de muitas maneiras, pensa em si mesma como uma família. Há coisas que você aprende que é aceitável discutir dentro da sua família, mas não com aqueles de fora da família. Vocês protegem uns aos outros. Vocês colocam uma cara corajosa para os de fora. Eu me senti culpada em contar minha história. Parecia um pouco subversivo. Mas eu sabia que tínhamos que examinar as vezes em que nos desviamos dos padrões que estabelecemos para nós mesmos se quiséssemos melhorar.
O que me surpreendeu foi como as pessoas abraçaram a peça. Ela encontrou um lugar suave para pousar, e isso me deu muita esperança de que nossa cultura está mudando, que estamos prontos para ser mais honestos e transparentes, o que talvez eu não acreditasse antes. Todos que abraçaram o artigo me demonstraram que estamos prontos para ser diferentes. Estamos prontos para olhar para nossos fracassos e falar sobre eles honestamente porque queremos mudar.
O que você aprendeu sobre o valor de compartilhar histórias pessoais para acelerar mudanças significativas?
É engraçado porque, de certa forma, sempre entendi o valor das histórias. O primeiro contato que me lembro de ter com a medicina foi quando criança. Meu irmãozinho, quando era um bebê, começou a babar muito. Ele tinha epiglotite e suas vias aéreas estavam fechando. Minha mãe ligou para o pediatra e descreveu os sintomas pelo telefone. "Ele está inclinado para a frente sobre a mão. Ele está babando. Ele está fazendo um som horrível quando respira." E o pediatra imediatamente reconheceu o que era e deu instruções sobre como mantê-lo vivo enquanto eles dirigiam para o pronto-socorro.
Lembro-me de pensar que parecia a descrição de trabalho mais bonita que eu poderia imaginar — ouvir com atenção, e ao ouvir, você pode curar. Daquele momento em diante, eu quis ser médica.
Em algum lugar ao longo do caminho, em nosso treinamento, perdemos esse amor pela história, porque historicamente, como médicos, a faculdade de medicina nos treina para ouvir histórias de uma forma muito específica. Ela nos treina para destilar o que é relevante e, então, enquadrá-lo no contexto da doença, e deixar de fora toda a bela tapeçaria da história em si.
O que acho notável agora é que a assistência médica está reexaminando histórias com uma lente muito mais aberta e generosa. Estamos observando como as histórias são contadas e ouvindo por que elas são contadas. Parece que estamos reconhecendo o que as histórias podem nos dizer sobre nós mesmos, uns sobre os outros e sobre quem esperamos ser.
Muitas pessoas têm histórias sobre o que as levou a entrar na área da saúde em primeiro lugar. Podemos usar essas histórias como veículos para a mudança. Podemos usá-las para examinar quem somos, quem não somos e quem queremos ser. Isso torna tudo pessoal e real. É a melhor ferramenta que temos.
Até que ponto a necessidade de focar em dados e evidências contribui para desvalorizar a importância das histórias?
Todo médico dirá que tem conflito de missão como um companheiro constante em seu dia. Precisamos ser eficientes. Precisamos focar nas informações para encontrar o diagnóstico certo, acompanhar e seguir as diretrizes de tratamento baseadas em evidências.
O que os médicos não falam é que somos as únicas pessoas que podem manter a alma e a sacralidade da história médico-paciente intactas. Todas as forças ao nosso redor irão desmantelá-la — se permitirmos — porque é a coisa mais eficiente a fazer. Mas é nossa obrigação permanecer nesse espaço e não deixar que essas pressões externas nos afastem, porque é aí que você encontra a longevidade. É aí que você encontra o significado. É aí que você encontra a resiliência.
Você acha que deixar de construir relacionamentos com os pacientes é parte do que está contribuindo para o que parece ser uma epidemia de esgotamento?
Sim. Se você tem pressão de tempo, você está preso a isso, e é fácil deixar de lado as coisas que você ama. Eu acho que sistemas e organizações podem ajudar reconhecendo que muito do que eles estão tentando realizar em termos de engajamento do paciente, ativação do paciente e resiliência do médico, eles podem realizar dando espaço para que esses relacionamentos se desenvolvam. Porque se eles se esforçarem no tempo para construir relacionamentos, eles não podem ter nenhuma dessas outras coisas porque nunca saberemos quem são nossos pacientes como pessoas. Nunca seremos capazes de construir confiança. Nunca teremos tempo para eles revelarem partes importantes de suas vidas e de si mesmos para nós. Não teremos os resultados de qualidade relacionados à saúde que esperamos alcançar porque os pacientes não serão aderentes ao plano de tratamento porque não o co-criaram conosco.
Acho que às vezes somos nossos piores inimigos. Tentamos sistematizar tudo quando a solução humana é o que precisamos.
Nota: Esta entrevista foi editada por questões de tamanho e clareza.
Você também pode estar interessado em:
- New England Journal of Medicine: “Uma visão da borda — Criando uma cultura de cuidado”
- Siga o Dr. Awdish no Twitter@RanaAwdish .